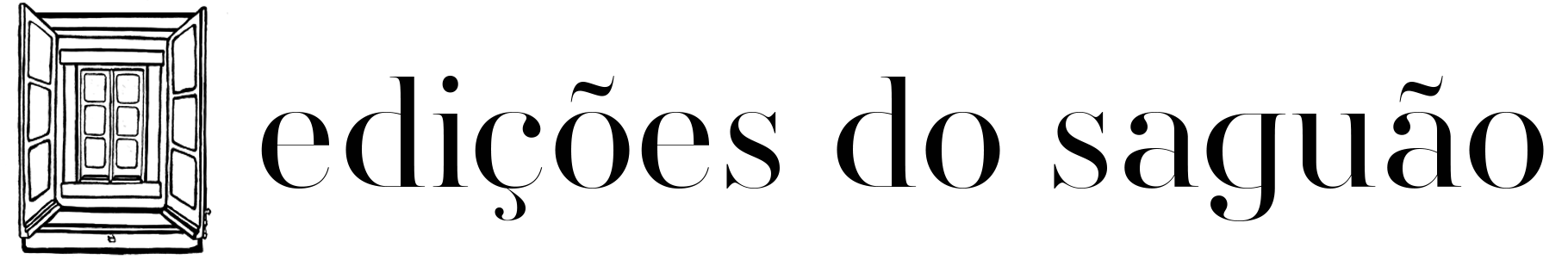Acaba de ser reeditado “O Absoluto que pertence à Terra”, uma leitura de Hermann Broch em que Filomena Molder permanece profundamente inactual, reclamando-se da sua condição de herdeira numa época pouco dada a herdar o que quer que seja.
O cenário filosófico em Portugal é deprimente. À excepção de uma ou outra ilha de interesse, o resto é história da filosofia, com maior ou menor pertinência, um conjunto de seres obscuros que nos tentam vender uma espécie de nacionalismo filosófico esclerosado e uma universidade virada sobre si mesma – o mundo poderia desaparecer que iriam continuar a surgir teses sobre Hegel e Heidegger. No meio deste cenário de onde a vitalidade desapareceu há muito, restam, no entanto, uns parcos nomes que vão conseguindo escapar a esta apatia generalizada – um tanto ou quanto inexplicavelmente para um país onde a tradição filosófica é inexistente. São os nossos “pensadores privados”, por mais conhecidos que sejam, aqueles de quem Deleuze dizia que têm “uma espécie de solidão que permanece sua em todas as circunstâncias; mas também uma certa agitação, uma certa desordem do mundo de onde surgem e falam.” Filomena Molder é das nossas mais conhecidas “pensadoras privadas”, alguém cuja figura responde tanto “às nossas dificuldades como aos nossos entusiasmos difusos”: uma nova linguagem, uma nova forma de pensar (que recusa, no entanto, qualquer discurso sobre a originalidade), uma nova forma de colocar problemas, de os partilhar, de os contar. No meio disto, no entanto, Filomena Molder permanece profundamente inactual, como facilmente se pode ver com este “O Absoluto que pertence à Terra”, uma leitura de Hermann Broch, também ele inactual, reeditada agora pelas Edições do Saguão: reclama-se da sua condição de herdeira numa época pouco dada a herdar o que quer que seja, pouco habituada a reconhecer dívidas, que desconhece o que há nisso de ar puro – tanto mais inactual quanto agora a dificuldade em respirar é tanta.
Inactual, como facilmente se intui, não é aqui usado de forma arbitrária. É convocado logo nas primeiras páginas de “O Absoluto que Pertence à Terra” – o livro acaba por ser uma longa declinação deste título extraordinário –, quando se refere a este escritor que não foi poeta nem filósofo, apesar de ter conhecido o abismo que o primeiro conhece e de ter sondado a escuridão da forma como talvez só o segundo consiga. É um termo de Nietzsche, figura mais presente do que mencionada neste livro, e diz respeito a esse “fazer frente ao dia” que é, depois do filósofo alemão, uma das tarefas do pensamento. “Fazer frente ao dia”, no entanto, não significa, em Filomena Molder, uma guerra aberta face ao tempo, à época que nos coube em sorte, mas diz respeito a uma condição de herdeiro (sermos esperados na terra, como diz Walter Benjamin) para a qual a originalidade diz pouco ou quase nada e que convoca figuras secundárias, laterais – como aquela, do tradutor, onde se deixa ler a antinomia da “graça e maldição” que diz respeito à torre de Babel – para melhor dar a ver a desmedida do inactual, a antinomia que o percorre e que só esta figura consegue dar conta.
“Encontramo-nos já sempre depois, e falamos como se tudo fosse pela primeira vez. Assim fala sempre Broch, assim lho ouvimos dizer, obedecendo também ele a este estar deste lado (deste lado em que estamos), aqui, neste momento, na terra, esperando por alguém, observando e esperando os que acabam de chegar ou antecipando os que nunca veremos chegar, cheios de alegria, desprovidos de toda a esperança.”
Esta última formulação dá bem conta desta tarefa do pensamento contemporâneo: renegar a qualquer forma de esperança sem com isto cair naquele “horror subversivo a tudo o que não rebente de uma terra queimada”. Ou, dito de outra forma: “perdida toda a esperança, tentar ainda merecer a terra”.
Mas é igualmente esta formulação que permite aferir da importância da arte para este pensamento – para este pensamento de Filomena Molder lendo Broch. Porque é o artista – e o poeta, acima de tudo – que conhece como ninguém esta antinomia, é ele que parte sempre do caos do tempo, da “indeterminação, impressões dispersas, esquecimentos e repetições” que é também um excesso de saber, de conhecimento, um excesso de informação; é ele, enfim, que pode também conhecer como ninguém essa experiência do nada, a condenação da terra, o mutismo em que as coisas estão sempre à beira de cair, esse mutismo que é “ausência de voz, a espessura alucinatória do elemento anónimo, a concentração de todas as dores não expressas”. Mas, ao mesmo tempo, ele não sucumbe, é “arrastado pela escuridão” mas “abrindo os olhos, impaciente”, é afirmação da terra, louvor da “graça e da maldição” que a torre de Babel vem inscrever na nossa condição.
“Atravessa os seus escritos uma consciência aguda de estar a falar no deserto, com a audácia que lhe confere não ser atacado pela impotência do nihilismo, de que o último rebento é uma falsa camaradagem com todos os horrores. (...) São os bem-aventurados por profissão: com medo de que as oportunidades lhe escapem, com medo da acusação de não pertencerem à sua época, impotentes e cépticos, são pródigos em todas as formas de mimetismo”
Esta consciência aguda, que é também uma consciência aguda da “boca animalesca” que ressoa no seu tempo, é a medida da inquietação de Broch. Há uma imagem deste – que Filomena Molder gosta muito de repetir, de equilibrar, porque, como qualquer imagem que dê conta de uma antinomia, esta também não é fácil – em que esta inquietação, que diz respeito ao conhecimento que Broch tem de que o “Virgílio vai aparecer num mundo que já não o pode receber e mesmo, para sermos mais precisos, um mundo que o há-de rejeitar”, se deixa ler em toda a sua pungência. É uma imagem humorística, mas o humor aqui é sério e é atravessado por um desconforto, por uma agitação que não se deixa domar: “escrever à pressa para ainda ter tempo de pôr o livro na Biblioteca de Alexandria, antes que o fogo seja ateado”. Urgência, “escrever à pressa”, mas saber que isso de nada serve, escrever desprovido de toda e qualquer esperança, não para salvar o que quer que seja, mas para juntar mais uma peça na acusação contra o tempo; saber que o futuro não é nosso, mas nem por isso dando de barato o passado.
Toda a inactualidade diz respeito a esse saber lidar com antinomias, com forças antagónicas, a “graça e maldição” que a abundância de línguas, imposta pela torre da Babel, cria – antinomias que, como se apressa por esclarecer, podendo ser acalmadas, podendo encontrar lugares onde se equilibram, não poderão nunca ser resolvidas sem trairmos a nossa pertença à terra, ao “deste lado em que estamos”. Mas esta inactualidade, no entanto, tem as suas figuras: Broch, sem dúvida, é um deles, mas também o poeta, “o eterno convidado estrangeiro”, o tradutor e, acrescentemos, o leitor. Este último, contrariamente aos outros, não surge tematizado – mas esta condição de herdeira de que Filomena Molder se reclama torna-a numa leitora intensa, uma das últimas de uma longa e imemorial linhagem, tão inactual quanto mais se percebe que, mesmo não se podendo “apagar os contornos do dia que nos viu nascer”, se trata de “reatar relações com uma forma de ver que foi estilhaçada”, que, por fim, o filósofo chega sempre depois, demasiado tarde, que não tem musa; que é, também ele, herdeiro de uma palavra, de uma linguagem, que lhe chega de outro.
“Ao contrário do filósofo que fica, paciente, à beira desse abismo (chega mesmo a sentar-se na sua borda e a perscrutá-lo), o poeta precipita-se nas profundezas, é arrastado pela escuridão, abrindo os olhos, impaciente”
E isto, esta condição de leitora, talvez ajude a explicar a fama que Filomena Molder tem vindo a ganhar fora do circuito académico. Quando ainda era professora da Universidade Nova de Lisboa, as suas aulas estavam cheias, em grande parte preenchidas por pessoas que não eram alunos e que queriam apenas ouvir aquele pensamento a fazer-se, em acto, aquele pensamento rítmico, dançante, que iluminava, por breves momentos, textos e imagens. Agora, enche auditórios, salas e anfiteatros com uma massa heterogénea de pessoas, grande parte delas de outras áreas – lembrando outros tempos e outras geografias.
Tudo isso acontece, sem dúvida, devido ao acontecimento Filomena Molder para o qual concorre tudo: o ritmo da voz, que acompanha o do pensamento, os gestos, as pausas, a tonalidade, tudo isso que faz de cada conferência algo de singular e de irrepetível, como se estivéssemos perante o pensamento em estado nascente, a alegria do pensar.
Mas, acima de tudo, tudo isso acontece porque, mesmo desprovido de esperança, Filomena Molder não desespera da palavra, da linguagem, que é a medida da nossa pertença à terra, a nossa graça e a nossa maldição (“quando o homem desespera da palavra, desespera também do espírito”. Broch não é Hofmannsthal, aquele que perdeu a linguagem). Dito desta forma pode parecer uma abstracção, daquelas em que os filósofos são tão pródigos. Mas, aqui, ela tem uma medida concreta e diz respeito ao fôlego do pensamento, que é também o fôlego, o ritmo da palavra. Não desesperar da palavra significa, desta forma, que esta é capaz de nos dar toda a amplitude de acontecimentos, desde a mais extrema alegria até “ao grito, o esgar, o urro, o uivo”, que, por consequência, é nela que habitamos e que é através dela que vivemos, que ela é tanto ética como estética.
“Ético dá conta do esforço de dar forma aos desesperos, aos riscos de viver, para que viver seja possível, dá conta da tensão vigilante, vesperal, que se prepara para manifestar, para se diferenciar. Por sua vez, estético designa a visibilidade desse esforço, o resultado da fixação das forças formativas em figuras tangíveis, visíveis, audíveis”
Talvez resida aqui, em certa medida, a explicação para a fama de Filomena Molder: contra o “âmago do ruído terrestre”, ela dá-nos conta de uma aposta – inactual – na palavra desde sempre herdada, desde sempre partilhada, filha dos homens – e, por isso, desde sempre ameaçada, frágil, como frágil é também o corpo. Nisto, nesta aposta um pouco louca, inclemente, reside a singular alegria deste pensamento.
João Oliveira Duarte, iOnline, 17 Novembro, 2020
Comprar este livro: O Absoluto que Pertence à Terra, Maria Filomena Molder